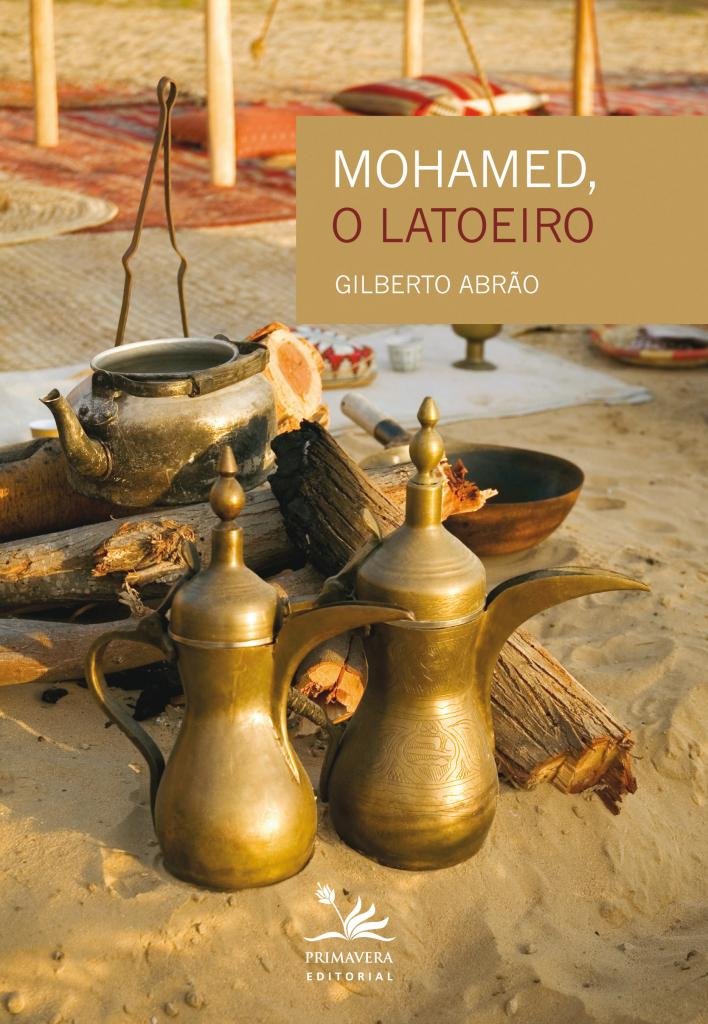Apaixonado por uma gaúcha, retornou ao Brasil em janeiro de 1965 para lecionar inglês em uma grande escola de idiomas. No ano seguinte, após obter o licenciamento para abrir uma franquia dessa escola de inglês, migrou para a cidade de Novo Hamburgo (RS), onde vive com sua esposa, Suzana. Apesar de sua atividade principal estar ligada ao ensino da língua inglesa, Gilberto sempre carregou a vontade de se dedicar à literatura, sendo que, em outubro deste ano, lançou seu primeiro livro: “ Mohamed, o latoeiro”.
Na publicação ele conta a história de um homem que traz em sua vida as marcas da transição de uma sociedade rural para uma moderna e globalizada, além de expor a convivência da cultura árabe com a brasileira. Desta forma, ele saúda os milhares de imigrantes do Oriente Médio que vieram para o Brasil no século passado e que acabaram escolhendo permanecer por aqui.
Em entrevista para o ICArabe, Gilberto contou sobre os anos em que esteve no Líbano, seu amor por aquele país e de que forma esta experiência e a convivência com seus pais influênciou na criação de seu livro. Analisou ainda, a partir de sua vivência, a forma como a cultura árabe é vista no ocidente atualmente.
Quando foi que seus pais chegaram no Brasil?
Meu pai veio na segunda metade dos anos vinte, minha mãe já estava aqui com os meus avós.
Por que eles vieram ao Brasil?
Vários foram os motivos que levavam os sírios e libaneses a imigrarem. Desde a perseguição política até a busca de uma vida melhor nas Américas. Meus pais eram de aldeias empobrecidas e a vinda deles foi para fazer a América, ou seja, ganhar dinheiro, melhorar de vida e ajudar a família que ficou lá.
Em qual cidade eles se estabeleceram quando chegaram?
Meu pai, no início, se estabeleceu no Rio e tentou ganhar a vida por lá. Mas não se acertou com os parentes e, no início de 1930, veio para Curitiba, onde ele conheceu
a minha mãe, filha de imigrantes sírios, e se casaram.
Qual trabalho eles passaram a desenvolver?
Meu pai tentou várias atividades comerciais. Foi mascate, vendedor de frutas em carrinho, teve um restaurante com outro sócio, teve um bar e bilhar e, por fim, virou funileiro. Minha mãe era dona de casa.
Até antes de você ser enviado ao Líbano pelos seus pais, como você se lembra que eles tentavam manter as tradições libanesas no Brasil? De que forma isto te influenciava?
Meu pai fazia parte da Sociedade Árabe Beneficente de Curitiba, onde eu ia com ele participar das festas, das danças, das comilanças, quase todos os fins de semana. A sociedade foi chamada de Sociedade Árabe para agrupar todos os sírios e libaneses, cristãos ou muçulmanos, sem distinção.
Em qual ano você foi enviado para o Líbano?
Em 1953, aos dez anos de idade. Fui de navio, junto com outros dois meninos, filhos de um primo do meu pai, sob os cuidados de outro primo do meu pai, é claro.
Onde você ficou lá ?
Meu pai tinha uma irmã que vivia em Trípoli, no norte do Líbano. Fiquei na casa dela e estudei lá numa escola só de meninos. As aulas começavam às oito da manhã, depois a gente almoçava e à tarde havia mais aulas. Foi lá que aprendi um pouco de francês também. Mas o mais importante era o árabe.
Como você se sentiu ao chegar lá, quais foram as suas primeiras impressões?
A casa da minha tia era tosca, não tinha eletricidade, água corrente ou qualquer tipo de infraestrutura básica à qual eu estava acostumado aqui no Brasil. Nos primeiros dias fiquei triste, amedrontado, mas à medida que fui me enturmando e aprendendo a língua, fui me acostumando à situação.
Como foi deixar o país e voltar ao Brasil?
Senti muito. A família da minha tia tornara-se minha família, meus primos eram meus irmãos, nós éramos moleques de rua, roubávamos frutas dos pomares alheios, estudávamos, ajudávamos os mais velhos da família nos seus trabalhos. Tive uma infância e uma pré-adolescência muito divertidas no Líbano. Foi muito difícil deixar o país. Considero o Líbano a minha segunda pátria. Adoro aquele pedacinho de chão!
O que você trouxe de mais importante desta experiência? De que forma isto influencia sua vida hoje?
Muita coisa boa. Os costumes, as tradições, o conceito de honra, a lealdade, o respeito ao próximo e, especialmente, aos mais velhos. E, muito importante, o meu amor pela língua árabe que passei a considerar rica e belíssima em função de seus poetas clássicos pré e pós islâmicos.
Você voltou ao Líbano outras vezes?
Sim, várias vezes. Na última vez levei a minha filha mais nova.
Sua impressão foi a mesma da infância?
A beleza natural do Líbano continua a mesma, é o paraíso posto na terra. Apesar da guerra civil que houve lá durante quinze anos e apesar dos ataques de Israel, o povo libanês é forte, valente e supera a dor da perda de seus entes queridos e a destruição de suas casas. É de se admirar como já estão reconstruindo tudo o que foi destruído por Israel. Mas hoje os tempos são outros, comparando com a década de 50. Por exemplo, os meus primos agora moram em casas amplas e confortáveis, com eletricidade, modernas instalações sanitárias, um ou dois carros na garagem. Tudo que um ocidental classe média possa desejar.
Você acha que o povo brasileiro e o ocidente valorizam e reconhecem a cultura árabe atualmente?
Parece que está havendo um redirecionamento nesse sentido. Depois da guerra de 1967, que foi o ano do fiasco militar, os árabes passaram a ser os vilões do mundo. Israel era o mocinho e os árabes eram os bandidos. Essa noção foi injetada pela propaganda sionista e americana durante anos, por meio de todos os meios de comunicação. Mas agora, a coisa está mudando.
De que forma isto acontece?
Por mais paradoxal que possa parecer, o Brasil e o ocidente estão redescobrindo a cultura árabe graças ao belicismo e à ganância de Israel por abocanhar mais terras dos palestinos. Hoje as pessoas não se contentam mais com as notícias dadas pela grande imprensa. Querem saber o outro lado da história, têm sede de saber o que pensa o árabe, querem saber dos intelectuais ocidentais que não estão atrelados à grande mídia. As pessoas estão ávidas por informação correta e isenta. E aos poucos, vão redescobrindo o valor da cultura árabe. Insisto no termo redescobrindo, porque a cultura árabe já fora reconhecida antes de Israel e sua propaganda.
Como foi sua experiência como Soldado na ONU e na Faixa de Gaza?
Uma experiência traumática. Não falo do serviço militar em si. Esse foi fácil e até certo ponto divertido. Falo, porém, do meu primeiro contato com a tragédia palestina. Foi lá em Gaza e em Rafah, a segunda cidade da Faixa e onde estava localizado o batalhão brasileiro, que eu conversava com os palestinos, ia nas barracas dos refugiados, ouvia-os nos cafés, nas ruas e em todo lugar. Uma tragédia mundial, um holocausto ainda existente. Gaza, a maior prisão a céu aberto do mundo. Foi lá que eu comecei a me inteirar da questão palestina. Aquilo toca a gente, não há como se livrar, não há como esquecer.
Por qual motivo você se alistou?
Eu estava sem grandes perspectivas de vida depois do meu serviço militar obrigatório e depois da conclusão do meu ginásio. Achei que me voluntariando para prestar serviços à ONU na Faixa de Gaza outros horizontes surgiriam à minha frente. De fato, esse episódio foi a linha divisória da minha vida.
De onde veio a sua paixão pelos livros?
Começou pela leitura de autores árabes, especialmente egípcios, e poetas árabes clássicos, e fui indo, indo, até virar um rato de biblioteca. Passava minhas manhãs e tardes na Bibloteca Pública do Paraná, lendo de tudo que me caía às mãos. Comecei a ler as histórias muito imaginativas de Karl May, fui para José de Alencar, Machado de Assis, entrei nos sulamericanos, tipo Gabriel Garcia Marques, Mário Llosa, o nosso Jorge Amado, viajei pelos clássicos do mundo, como Leon Tolstoi, Hemingway, Thomas Mann e outros. Lia de tudo. Até jornais velhos das colônias portuguesas. Sempre tive um fascínio pelas palavras.
Qual é a sua experiência com a literatura?
“Mohamed, o latoeiro” é o meu primeiro livro. Antes disso, no final dos anos sessenta e início dos setenta, eu tinha uma coluna diária em um suplemento regional do Jornal Zero Hora, que se chamava Chuva e Sol. Nessa coluna eu contava historietas, tentando imitar o Nelson Rodrigues. Depois que casei, parei de escrever porque concluí que escrever não põe comida na mesa. Agora, graças a pessoas que me incentivaram muito, a minha amiga professora Juracy Saraiva e a minha mulher, retomei o gosto de escrever.
De que forma sua experiência de vida influenciou na criação da história que você conta em “Mohamed, o latoeiro”?
Muita coisa é baseada em histórias que eu ouvia do meu pai ou dos patrícios que frequentavam a nossa casa. A história é uma mescla de fatos reais com ficção. Até alguns nomes são reais e fazem – ou fizeram – parte da comunidade. A verdade é que os primeiros imigrantes árabes que vieram a este país, no início do século passado, teriam muitas histórias para contar. Umas tristes, outras hilariantes, mas todas ricas. Uma pena que a maioria foi enterrada com eles.
Que outras influências esse livro carrega?
A composição étnica de Curitiba é maravilhosa e eu fiz muito uso dessa matéria-prima no livro. O Curitibano é atavicamente fechado. Traz isso de seus ancestrais que se fechavam dentro de sua própria comunidade. Curitiba é um prato cheio para se explorar histórias étnicas. O que eu adoro.
Você pretende continuar na carreira de escritor?
Sim. Já estou com um segundo romance no cofre da Primavera Editorial, trancado a sete chaves. E quem conhece o segredo do cofre é só a presidente da editora, a Lourdes Magalhães.